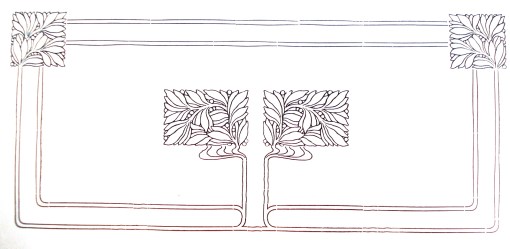Festa, 1934
Emygdio de Souza ( Brasil, 1867-1949)
óleo sobre tela, 26 x 36 cm
Coleção Particular
—-
—-
A GLÓRIA:
reminiscências de um dia de Natal
—-
— José Veríssimo
—–
Era muito mais de meio dia quando alcançamos o sítio do Cuitêua, primeira parada em nossa excursão sertaneja. O caminho que desde a margem do grande rio ali nos levara era um comprido riacho, estreito e profundo, ensombrado na sua máxima extensão por dois renques marginais de basto arvoredo. O sol lhe chagava escassamente e a trechos; e a constante sombra do seu percurso refrescada pela viração, que a ramaria das árvores alentava e mantinha, tornava a viagem menos penosa, muito mais agradável até, do que se imaginaria naquelas paragens equatoriais.
E, demais pitoresca, pelos risonhos quadros formados ali por aquela mistura de luz e sombra.
A mata ribeirinha, composta de mil espécies várias, muitas então floridas, adornada de cipós e parasitas das formas mais esquisitas e singulares, apresentava uma sucessão de paisagens, de quadros, de manchas, como lhes chamam os pintores, a que as águas escuras do riacho, sobre as quais não raro boiavam nínfeas e caladios, ajuntavam o encanto delicioso das marinhas. Nem o mundo animal, mais escasso do que geralmente se pensa nessas regiões, faltava naquele seu pitoresco trecho. Aves aquáticas, ora isoladas, ora em bandos, animavam de vez em quando a paisagem, pondo-lhe com a sua voz ou o seu vôo, uma nota viva que não conseguia entretanto destruir ou sequer atenuar sensivelmente, o tom de melancolia que resulta sempre da combinação da mata e da água no interior do Brasil.
Eu sentia a impressão dessa melancolia, que me rodeava, posso dizer que me apertava, sentado no tosco e duro banco de pau da pequena canoa que nos levava, apenas com escasso palmo de borda fora da água, de superfície tão lisa quanto um espelho. Inconscientemente, tão inconscientemente como poderia respirar os miasmas malsãos que daquelas terras apauladas se exalassem , eu recebia do ambiente tristonho uma inexprimível sensação de desalento, melancolia e saudade. Saudade de quê? Não o saberia dizer, nem haveria de que. Aquela excursão era uma simples digressão de recreio, um passeio desacompanhado de qualquer preocupação anterior, e a que não parecia qualquer preocupação ulterior devesse seguir. Quando depois procurei analisar o meu estado d’alma, achei que unicamente resultava da influência indefinível das coisas. A natureza é de si triste e contristadora.
—–

A caçada da anta, 1880
Franz Keller, (Alemanha, 1835-1890)
—–
——
A vista do “sítio” tirou-me deste estado. Não que nele houvesse sequer a brancura de uma parede, alegrando os tons escuros da paisagem. Era uma casa toda de palha, escurecida pelas intempéries. Mas no topo da ribanceira a que estava sobreposta havia uma multidão animada; Homens, mulheres e crianças. Suas roupas variegadas, na maior parte claras e vistosas, roupas de festa, que era o Natal, e o seu movimento e o burburinho bastavam para alegrar a vista, variando-a.
Saltei em terra e subi com os meus companheiros, ali novatos mas não estrangeiros, o ligeiro declive que levava à explanada onde ficava a casa, melhor diria a choupana, em cujo terreiro se aglomerava aquela gente. Não foi propriamente cordial e benévolo, antes reservado se não antipático o seu acolhimento. O matuto, instintivamente não gosta do homem da cidade, desconfia dele, desama-o . Tem-no por seu inimigo natural; é de repulsão ou de indiferença pouco simpática, a primeira impressão dele.
O dono do sítio, que me esperava, e os seus, que já me conheciam, saindo a receber-me, com demonstrações muito comedidas ainda de satisfação, consolaram-me do desagrado que vi, ou pareceu-me ver nas fisionomias curiosas, indiferentes ou displicentes que me encaravam.
Ali se não usam apresentações; as supre o recebimento dos donos da casa, e com pouco me achei conhecido dos presentes, embora essas primeiras relações tivessem ainda um caráter de desconfiança e reserva.
Ia-me esquecendo de dizer que eu desembarcara com a minha espingarda na mão, um fuzil de retrocarga, arma moderna e nova em folha. Os caçadores, que forçosamente por ali haveria, imaginaram em mim um companheiro, um êmulo. Mas como acoca a caça é mais um divertimento que uma indústria, e não cria ainda rivalidades interesseiras, e outras competências que as da perícia e habilidade, vieram eles a mim atraídos pela comunhão dos mesmos gostos, que naturalmente me supuseram, e pela curiosidade da arma que se lhes autolhava diferente das suas. A espingarda interessou-os. Nenhum deles tinha ainda visto igual e as explicações que condescendente lhes dei do seu funcionamento e eficácia, do mesmo passo que os maravilhava conquistava-me a sua benevolência.
Se eles soubessem quão ruim atirador eu era! E tanta consciência tinha disto, que prevendo a necessidade de dar-lhes uma prova de mim como caçador, pois o pretexto da minha ida ali era a caça, antecipei-me em assegurar-lhes, que apesar da minha excelente arma eu atirava muito mal. Senti que a confissão lhes não era desagradável. A minha inferioridade de “cidadão” lisonjeava a sua vaidade de matutos.
Estávamos nesta palestra, uns sentados em bancos toscos, ou em troncos d’árvores, outros acocorados, os mais em pé, à sombra de uma copada árvore erguida à beira da ribanceira, sobre o riacho, quando uma rapariga – uma linda moça de uns dezessete anos, mameluca trigueira e rosada, de fisionomia risonha e aberta, chegou a nós entre alvoroçada e tímida e interpelando-me diretamente, chamou-me:
— Moço, venha matar um jacaré!…
—-
—–

Jovem caçador, s/d
Henrique Bernardelli, (Valparaíso, Chile 1858 – Rio de Janeiro RJ 1936)
óleo sobre tela, 34 x 18 cm
—-
—-
Matar um jacaré! Correu-me um frio pela espinha. Não que eu fosse de minha natureza vaidoso, ou tivesse em grau algum a presunção de atirador. Mas os nossos defeitos, como as nossas qualidades, dependem de uma influência estranha; são muitas vezes os outros que no-los impõem. Tive um vago e indefinível sentimento de que ali eu era um representante da civilização, que aqueles matutos menoscabavam, e que teriam grande gáudio em ver desmoralizada em mim. Não bastava inventar armas como aquela da qual eu acabava de contar maravilhas, era preciso, era o principal, saber manejá-las. Qualquer daqueles broncos sertanejos, com o arco e flecha de seus avós selvagens com a sua grosseira arma antiquada de carregar pela boca, a sua bruta lazarina, o seu ridículo pica-pau, ou o seu velho e anacrônico fuzil de pederneira, era muito mais capaz do que eu, com a minha inteligência, a minha instrução, e a minha espingarda aperfeiçoada, de matar um jacaré. Porque matar semelhante bicho é um dos tiros mais difíceis e mais reputados. Ele só é vulnerável nos ouvidos quase invisíveis, mesmo a pequena distância, ou nos olhos que, quando n’água, apenas emergem como duas meias esferas de poucos milímetros de diâmetro fora dela. Realmente para experimentar um sujeito da cidade, todo de paletó e gravata, chapéu inglês de cortiça e linho na cabeça, à guisa de capacete, coisa jamais ali vista e escandalosa, e uma bela espingarda nova de retrocarga, não se podia achar melhor do que pô-lo na obrigação de matar um jacaré, sabe Deus em que condições.
Moço, venha, venha matar o bicho… repetiu a linda rapariga arregaçando num sorriso irônico, — tal me pareceu ao menos – os lábios sensuais e mostrando duas admiráveis fieiras de dentes brancos e úmidos.
E todos a uma, a começar pelos donos da casa, convidavam-me, concitavam-me, pediam-me, com maldosa insistência, fosse matar o jacaré. Confuso, enleado, canhestro, eu me esquivava; era mau atirador e o tiro dificílimo; errava e o jacaré se iria embora; que outro o matasse. Mas não houve convencê-los e livrar-me da prova, em que sentia arriscava o prestígio da civilização, cujo era eu ali o único representante. Ateimaram, já com malícia, prelibando o gosto de se rirem do “moço da cidade” e de afirmarem a sua superioridade de matutos. E quase puxado me levaram para alguns metros dali, à beira da mesma ribanceira, donde vinte dedos acompanhando o da bela mameluca, que interessadíssima na morte do anfíbio, continuava a rir com seu afiado riso escarninho, apontavam embaixo, nas águas escuras do rio, quase encostado à margem, a enorme cabeça de um jacaré. O ruído feito em cima fizera-o mergulhar um pouco mais, e agora só lhe divisavam a ponta do focinho e, a distância de mais de um palmo, as metades de duas esferas negras, que eram seus olhos, esbugalhados.
Senti passar em mim um sopro divino que nos momentos supremos faz os heróis e os mártires. Levei a espingarda à cara e, quase sem apontar, tanta era a consciência de que apontar não me adiantaria, como que hipnotizado por aqueles grandes olhos parados, que pareciam olhar-me assombrados do meu arrojo, atirei.

Ilustração original do texto Glória, da revistas Kosmos, sem indicação de autor.
—-
Ouvi dois ruídos, um marulho surdo d’água, e umas gritadas interjeições de espanto e aplauso a meu lado. Entre essas distingui bem junto ao meu ouvido a exclamação:
— É macho!… seguida de uma gargalhada argentina, franca e simpática da linda mameluca, que a soltara.
Voltei a mim e verifiquei então que tinha matado o jacaré. Ferido num dos olhos o grande anfíbio, num estremeção violento, causador daquele ruído, virara de papo para o ar e apresentava à superfície das águas, ainda revolvidas e barrentas do seu movimento brusco e forte, o largo peito amarelo, de grandes e córneas escamas rijas, a modo de placas de uma couraça antiga.
A morte fora instantânea. Os matutos pasmados e corridos diziam-me em palavras amigas e convencidas a sua admiração.
Nunca mais atirei outro jacaré. Também jamais senti tão forte em mim o gosto do sucesso, quase direi, a deliciosa comoção da glória. E, ainda me lembra, às vezes, o sorriso afetuoso com que me olhava a linda mameluca depois da minha façanha.
—–
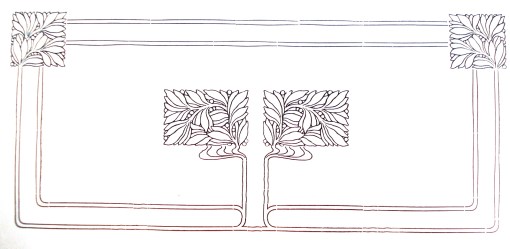
Em: Revista Kósmos: Dezembro 1907, ano IV, número 12, sem numeração de páginas.
—
===

——
José Veríssimo Dias de Matos (Óbidos, PA, 1857 — Rio de Janeiro, RJ, 1916) foi um escritor, crítico, educador, jornalista, sociólogo, sócio do IHGB, sócio-fundador da ABL, diretor da Revista Brasileira, professor, diretor do Colégio Pedro II. Como escritor, a sua obra é das mais notáveis, destacando-se os vários estudos sociológicos, históricos e econômicos sobre a Amazônia e as suas séries de história e crítica literárias. Na Introdução à sua História da literatura brasileira tem-se uma primeira revelação de todas as vicissitudes por que havia de passar uma literatura que se nutriu por muito tempo da tradição, do espírito e de fórmulas de outras literaturas, principalmente do que lhe vinha de Portugal e da França. Usou também os pseudônimos: Cândido e José Verega.
——
Obras:
Primeiras páginas, 1878
Emílio Litré, 1881
Carlos Gomes, 1882
Cenas da vida amazônica, ensaio social, 1886
Questão de limites, história, 1889
Estudos brasileiros, 2 séries, 1889-1904
Educação nacional, educação, 1890
A religião dos tupis-guaranis, 1891
A Amazônia, 1892
Domingos Soares Ferreira Penna, 1895
A pesca na Amazônia, história, 1895
Ginásio nacional, 1896
O século XIX, 1899
Pará e Amazonas, 1899
Estudos de literatura, 6 séries, 1901-1907
A instrução pública e a imprensa, educação, 1901
Homens e coisas estrangeiras, 3 séries, 1902-1908
Que é literatura e outros escritos, 1907
Interesses da Amazônia, 1915
História da literatura brasileira, 1916
Letras e literatos (póstuma), 1936
Em domínio Público e pronta para leitura na internet: História da literatura brasileira
 Jardim Botânico, aléia das palmeiras reais, entrada principal.
Jardim Botânico, aléia das palmeiras reais, entrada principal. Entrada para o Jardim Oriental, dentro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.
Entrada para o Jardim Oriental, dentro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O novo Jardim oriental tem muitos caminhos de pedras.
O novo Jardim oriental tem muitos caminhos de pedras. Foto mais antiga, de 2007, do mesmo lago, outro ângulo, no Jardim Oriental do Jardim Botânico.
Foto mais antiga, de 2007, do mesmo lago, outro ângulo, no Jardim Oriental do Jardim Botânico. Raizes de uma andiroba.
Raizes de uma andiroba. Aléia das andirobas.
Aléia das andirobas.