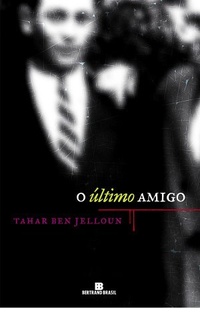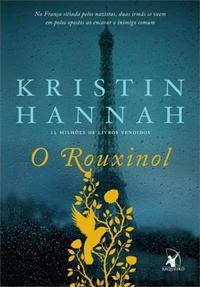Cabo Elspeth Henderson e Sargento Helen Turner, 1941
Cabo Elspeth Henderson e Sargento Helen Turner, 1941
Laura Knight (G.B. 1877-1979)
óleo sobre tela, 125 x 95 cm
Royal United Services Institute
O Rouxinol, de Kristin Hannah é um livro de leitura rápida, com uma história que engaja o leitor. O livro perfeito para a semana da Páscoa, para um feriado prolongado. Explora a Resistência Francesa durante a Segunda Guerra Mundial. É um quase thriller, com uma boa dose de sentimentalidade, o que agradará aos corações românticos. Além disso, tem uma característica rara dos livros dos meus anos formativos, mas que nesse século se tornou comum: mulheres fortes que por temperamento ou por necessidade desempenham papeis importantes em situações de extremo perigo.
Muito se tem escrito sobre a Segunda Guerra. A enormidade do agravo que dominou a humanidade por anos seguidos no século passado, afetando muitos países dentro e fora da Europa, diversas etnias, religiões, minorias e acima de tudo demonstrando o que há de pior no ser humano, não pode deixar de ser escrito, descrito, relembrado, analisado, esmiuçado, quer por historiadores, quer pelos descendentes daqueles que foram perseguidos e assassinados, por poetas, escritores, artistas sob pena de um dia ainda encontrarmos monstros capazes de repetir a dose. É item obrigatório na consciência humana.
O livro de Kristin Hannah situado na França sob domínio alemão traz à tona alguns aspectos nem sempre mostrados nas obras sobre a guerra. O papel essencial da mulher na luta de todos é um desses tópicos. Boa parte do movimento feminista da década de 1960-70 teve raízes na guerra. Com os homens indo para o front, restou às mulheres o trabalho que anteriormente havia sido designado como “trabalho de homem”. Elas descobriram que podiam fazer aquilo que antes pertencia exclusivamente ao mundo masculino. Isso aconteceu não só nos países europeus, mas em todos os países envolvidos no conflito. No total cerca de 1 bilhão e 900 milhões de pessoas se envolveram na guerra, dos quais estima-se que 72 milhões morreram. E em todos os países envolvidos, quer entre os Aliados ou entre os países do Eixo, quer no Oriente, na Austrália ou no Brasil, a mulher adquiriu postos de trabalho originalmente delegados aos homens.
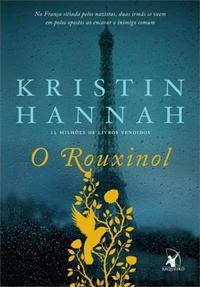
Na França do governo Vichy (França ocupada) formou-se um movimento de resistência ao domínio alemão, formado por pessoas comuns que em um circuito secreto passavam informações, liberavam prisioneiros, protegiam perseguidos, salvavam vidas e lutavam de maneira secreta, correndo risco de vida diariamente, na maioria das vezes sem o uso de armas. Historiadores ainda estão se debruçando sobre os dados desse movimento oculto. Suspeita-se que não tenha sido tão difundido quanto a imaginação dos sobreviventes da guerra o faz. No entanto, o movimento existiu e seus membros correram riscos verdadeiros, diários e muitos foram assassinados pelas tropas alemãs, quando descobertos. Nessa guerra oculta, onde o segredo, as relações de amizade, família e confiança se mostraram essenciais, as mulheres se sobressaíram. A Resistência Francesa não teria tido o sucesso que teve sem a contribuição das mulheres. Kristin Hannah mostra muito bem como isso aconteceu e explora ainda mais intensamente como as mulheres acabavam se envolvendo nesse contexto de guerra, fora dos parâmetros conhecidos do embate. Ela explora o assunto dedicando-se às duas irmãs que retrata, Isabelle e Vianne Rossignol. Duas irmãs, de diferentes personalidades, idades, com maneiras diversas de encarar a vida, que na guerra da França sob a governança de Philippe Pétain e Pierre Laval, se mostram igualmente lutadoras e corajosas, ainda que cada qual se aproxime dessa decisão por diferentes meios. Mas vale lembrar que todos os que lutaram na Resistência precisaram de uma enorme coragem moral e resistência física, quer elas sejam requeridas nos meios escolhidos por Isabelle, quer naqueles encontrados por Vianne.
A rebelde Isabelle se vê desde os dezenove anos envolvida na Resistência, travando batalhas pessoais, salvando vidas. Vianne é muito mais insegura, com uma filha para cuidar e o marido na guerra, acha-se em situação precária depois que soldados alemães ocupam sua casa. Cada qual enfrenta seus próprios demônios, quase todos originários de um relacionamento insatisfatório com o pai e ausência da mãe falecida. Vianne representa um lado dessa guerra que também é pouco explorado na literatura: o papel do colaborador. A pergunta que não cala: qual é o ponto de virada num ser humano, quando ele deixa de lado valores tradicionais como honra e lealdade e passa a ser um colaborador com o inimigo.
 Kristin Hannah
Kristin Hannah
Philippe Pétain que havia sido um herói nacional da França durante a Primeira Guerra Mundial justificou sua subserviência ao regime nazista dizendo que menos franceses morreriam nessas circunstâncias. Errou. Auxiliado por Pierre Laval ambos fizeram um grande mal ao cidadãos franceses. A questão dos colaboradores e dos resistentes tem ocupado um bom número de estudiosos. Rab Burnet com seu livro Under the Shadow of the Swastika: the moral dilemmas of Resistance and Collaboration in Hitler’s Europe, talvez seja o mais recente estudo do fenômeno. Mas Michael Gross, Idith Zaital e outros têm-se dedicado ao tema. A vida de Vianne se desenrola no início fazendo um paralelo à política nacional de Pétain. Quando Laval coordena a deportação de judeus nascidos fora do território francês, encorajando a deportação de crianças, as coisas começam a mudar para Vianne. Esses atos repercutem diretamente em sua vida, porque ela vê sua melhor amiga Rachel levada pelos nazistas, com um dedo de sua própria e até então inocente colaboração. Kristin Hannah não chega a explorar o dilema moral de Vianne. Passa por cima. Perde uma boa oportunidade de transformar a personagem em elemento mais rico e complexo. A contaminação moral, causada pelas execuções em massa, pela tortura, deportações, pelos trabalhos forçados é fato conhecido. Essas ações criaram desconfiança e subverteram a confiança cultural coletiva dos franceses. Colaboradores em geral não se apresentavam voluntariamente, mas o faziam como consequência de coerção. O dilema de Vianne, que tinha um membro do exercito nazista em sua própria casa, e sua melhor amiga, uma judia na casa ao lado, poderia ter sido mais bem explorado.
E é justamente por essa escolha, digamos assim, mais popular, mais democrática no entendimento, que O Rouxinol não recebe todo o meu apoio. Não me surpreenderia ver esse livro rapidamente transformado em um filme. Há elementos que traem essa intenção. No início, quando a bela cidadezinha francesa é descrita, bucólica com gerânios nas janelas em vasos de barro, tive a sensação de estar num mundo perfeito demais, próprio para um set Hollywoodiano. Depois vem a hipérbole narrativa. Os sofrimentos são enormes, as alegrias também, os amores profundos. O ressentimento de ambas as irmãs com o pai é extremo e duvido muito que na época, nos anos 30-40 do século passado tenham sido tão fora do comum quanto nos parece hoje. A educação era diferente. Era mais dura, menos dada às emoções enunciadas hoje pela cultura popular. Há também o mito romântico sobre a Resistência, que é uma Rainha de Sabá cultural, ganhando sedução justamente pelo numero que véus que a encobre. Kristin Hannah não conseguiu se deslindar de muitos lugares comuns, como mensagens comunicadas pelas cortinas abertas ou fechadas em uma janela, por exemplo. O final melodramático, em que só faltamos ouvir uma trilha sonora de violinos para acompanhar as lágrimas barateia um tema tão rico.
Dou quatro estrelas de cinco a esse livro principalmente porque estou ciente de que ele pode servir de porta entreaberta para o conhecimento, para um leitor mais jovem que nunca tenha ouvido falar desse outro lado da guerra. Talvez grande parte do meu desapontamento se deva à experiência como leitora. Por via das dúvidas ficam aqui quatro estrelas. Mas eu não hesitaria em ler essa obra ou em dá-la de presente a um jovem leitor. Francamente, comprei-o de presente para uma sobrinha.
 Vista de Tânger pela janela, 1912
Vista de Tânger pela janela, 1912