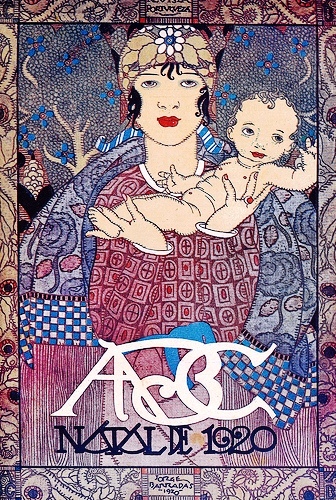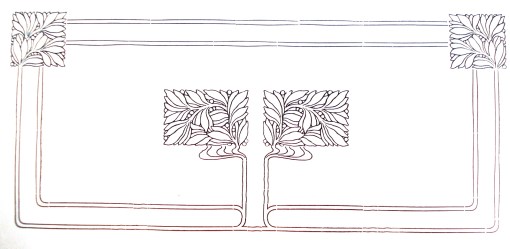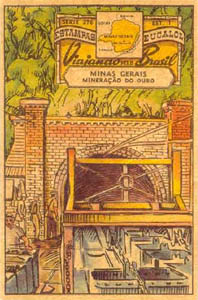–
–
Vista Parcial de Mariana – MG, 2010
Baptista Gariglio Filho (BH, Brasil, 1961)
óleo sobre tela, 70x90cm
–
–
Os sinos de Mariana
–
Mário Behring
–
–
No dia 30 de junho de 1743 grande era o movimento na Vila Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo, hoje cidade arquiepiscopal de Mariana.
Após três meses de permanência, seguia o Bispo do Rio de Janeiro, D. Frei João da Cruz que viera em correição às Minas, para Camargos.
Várias providências haviam sido tomadas pelo prelado nesses três meses, a fim de regularizar a situação do clero na Vila, sendo uma delas a demissão do vigário da vara Padre Dr. Francisco Pinheiro da Fonseca que menos curava das almas do que dos seus negócios particulares, antes do temporal, que do espiritual, pecado que era aliás de todo o clero das Minas, interessado em quanta especulação surgisse para atrair o ouro que fartamente fluía das catas riquíssimas.
Esse Padre, por isso que fazia vista grossa aos pecados dos seus paroquianos, era tido e havido na conta de um excelente homem, tendo uma grande roda de amigos aos quais agravou a decisão violenta do Bispo, resolvendo-se tirar dela uma vingança pública.
E com tal segredo a prepararam que nada transpirou por entre o povo.
A 20, pela manhã, pôs-se em marcha a comitiva do Bispo – No momento da partida porém, quando os sinos se preparavam para saudar o seu pastor com os seus costumados cortejos e repiques (1) deram os sineiros pela falta de todos os badalos dos quatro sinos da matriz e do da capela de São Gonçalo.
Célere chegou ao Bispo a notícia do acontecido e voltando então outra vez para Mariana mandou tirar os badalos restantes das demais Igrejas, interditando os templos de toda a Freguesia.
O ouvidor da Vila Rica, Caetano Furtado de Mendonça (2) mandou logo que teve conhecimento do fato, tirar quatro devassas pelas autoridades eclesiásticas. A primeira pelo próprio Bispo, a segunda pelo Vigário da vara, a terceira pelo Cônego Domingos Lopes e a quarta pelo Vigário de Antônio Dias, Padre Félix Simões.
Dessas devassas resultou para o juízo eclesiástico a convicção de culpa de várias pessoas importantes da Vila e assim, para que não escapassem à pronúncia, o Padre Domingos Lopes reuniu um grande corpo de clérigos armados de clavinas, pistolas e catanas pondo cerco à Vila para efetuar as prisões.
À frente de um troço armado o Padre Domingos Lopes, cuja casa servia de quartel general, invadiu as residências dos culpados, prendendo o Bacharel Manuel Ribeiro de Carvalho, advogado nos Auditórios da Vila, Domingos Pinto Coelho, José de Almeida Costa, o Licenciado em farmácia Manoel Peixoto de Sampaio e Manuel Pinto da Rocha, conseguindo outros fugir a coorte clerical e refugiar-se em lugar seguro.
–
–
Paisagem de Mariana, Minas Gerais, 1995
Carlos Bracher ( Brasil, 1940)
óleo sobre tela, 81 x 100 cm
–
–
Realizada a prisão desses acusados, mandou o Bispo carregá-los de ferros, metendo-os no tronco da cadeia, como se costuma fazer aos escravos, (3).
Enquanto isso se dava, na casa Juiz de Fora, José Pereira de Moura, aparecia uma carta anônima dizendo o local em que se achavam os badalos subtraídos.
Dirigindo-se com alguns oficiais de justiça a um córrego que atravessava o pasto da Vila, constatou o Juiz de Fora a presença dos badalos que foram logo restituídos à autoridade eclesiástica.
Resolveu o Bispo que fossem os presos transportados para o Rio de Janeiro e para isso organizou um corpo de 20 clérigos armados que deveriam vencer o ordenado de 200 oitavas de ouro cada um a custa da fazenda dos culpados.
A isso porém se opôs o ouvidor Furtado de Mendonça, dizendo que tendo os presos entreposto recurso de sua pronúncia para o juízo da Coroa, deviam permanecer na cadeia da Vila até final decisão.
Animados com as primeiras violências não se quiseram sujeitar os clérigos à decisão do Ouvidor , e combinaram um assalto à cadeia para arrancando à viva força os presos, seguirem para o Rio , conforme determinara o Prelado.
Ânimo resoluto e decidido não se acorbadou o Ouvidor: antes determinou imediatamente ao Juiz de Fora que fizesse guardar a cadeia por oficiais de justiça bem armados e estabelecesse rondas na Vila, até que se acalmasse aquela paixão eclesiástica.
Não se conteve o Padre Domingos Lopes, generalíssimo dos Padres belicosos.
E tais censuras dirigiu ao Ouvidor que este em carta dirigida à Corte assim se expressava:
“Não sofre demora a satisfação do castigo porque se os juízes da Coroa de Vossa Majestade houverem de ser descompostos nos provimentos dos recursos por esses Padres desavergonhados e enfronhados nas suas ordens, que lhes parece de tudo são isentos nos seus desaforos, não haverá Juiz da Coroa, que com medo de sua venenosa língua e pena se atreva a valer com a proteção Real aos oprimidos vassalos de Vossa Majestade”…
Essa questão entre o Ouvidor de um lado e o Bispo e Vigário da vara de outro, agravou-se dentro em pouco por motivo de um conflito de jurisdição.
Morrera um clérigo que deixando alguns bens em um testamento secular, as justiças eclesiásticas fizeram o seqüestro nesses bens.
–
–
Paisagem de Mariana, 1977
Inimá de Paula (Brasil, 1918-1999)
óleo sobre tela 69 x 90 cm
–
–
Interpuseram os herdeiros recurso para o Ouvidor que lhes dando razão decidiu em seu favor a causa.
Não cumpriu porém a decisão o Vigário da vara e na réplica usando de expressões pelo ouvidor julgadas desrespeitosas, retorquiu, chamando-o atrevido e petulante; não se calou o vigário da vara redargüindo com outras e equivalentes injúrias o que lhe valeu ser autuado pelo Ouvidor e condenado a multa de 200 oitavas de ouro em proveito da Fazenda Real.
A intimação dessa sentença mandou-a fazer o Ouvidor pelo seu escrivão no palácio episcopal.
Seguiu ele a cumprir o mandado e passado algum tempo vieram dizer ao Ouvidor que o Bispo prenderá o escrivão em palácio.
Encolerizado, reuniu Furtado de Mendonça os oficiais de justiça e marchou para a residência do bispo, onde chegado mandou, tendo-lhe previamente posto cerco, uma intimação ao prelado para que desse imediata liberdade ao funcionário da justiça sob pena de ir arrancá-lo à força.
Com o cerco começou a juntar-se povo defronte do palácio, chovendo comentários como soe sempre acontecer nessas ocasiões.
O Bispo, em resposta, mandou dizer ao Ouvidor que em sua casa só entrava quem ele permitisse; que o escrivão não estava constrangido: aguardava somente um outro escrivão eclesiástico para dar contra fé do seu mandado. Com isso e saindo o escrivão, retirou-se o Ouvidor, endereçando o Bispo à Corte longa queixa, contra Furtado de Mendonça.
Informada favoravelmente pelo governador Gomes freire de Andrade, saiu triunfante o Bispo da questão, sendo removido o Ouvidor.
A questão do furto dos badalos foi cometida então ao Juiz de Fora que abriu nova devassa, verificando a inocência de alguns dos que o Bispo prendera anteriormente como culpados.
Provaram as indagações tratar-se de uma simples vingança do Padre Francisco da Costa de Oliveira, já falecido em 1745, quando se concluiu a devassa, que o Bispo não admitira a exames, talvez por ser íntimo do ex-vigário do Dr. Francisco Pinheiro da Fonseca.
Também concorrera para o furto o Padre Antônio Sarmento.
Contra Miguel Pinto da Rocha um dos anteriormente presos havia indícios de cumplicidade visto como antes do fato ele assoalhara que os sinos da cidade calar-se-iam no dia da partida do Bispo.
Quanto ao boticário Manuel Peixoto de Sampaio, sabia-se ser amicíssimo do ex-vigário, “ser homem arrogante, insolente” tendo tido um atrito com o Bispo que o coagira a firmar um termo de deixar o concubinato em que publicamente vivia.
A cerca deste último era opinião do Juiz de Fora que embora sobre ele não recaíssem mais que vagos indícios, devia ser retirado das Minas e mandado para outra capitania…
E eis aí como terminou essa questão, vencendo em toda a linha o clero, fazendo recuar os representantes da Justiça d’ El Rei.
Partiu para o Rio vitorioso o Bispo D. Frei João da Cruz; passados anos demitiu-se do cargo e ao retirar-se para o Reino julgou ser conveniente ao serviço de Deus, carregar com todas as alfaias, ornamentos e prataria comprados com a renda do Bispado e ainda com o espólio do seu antecessor D. Frei Antônio de Guadalupe, ação por sem dúvida merecedora de que aqui a rememoremos, (4) arrancando-a a injusto olvido.
Maio – 907
— — — — — — — — — —
(1) Consulta do Conselho Ultramarino de 16 de Abril de 1744.
(2) Cartas de 6 e 25 de Agosto de 1743.
(3) Carta do Ouvidor de Vila Rica, Caetano Furtado de Mendonça para a Corte.
(4) Carta do Cabido da Sé do Rio de Janeiro, 6 de Abril de 1751.
–
–
[Texto integral, em domínio público, mas com grafia atualizada para facilitar a leitura. As ilustrações não pertencem ao texto original, são obras posteriores ao texto, paisagens da cidade mineira onde esses fatos aconteceram. Mantive as maiúsculas como no texto ainda que seu uso seja irregular. Estão de acordo com o texto original.]
–
–
Em: Kósmos, revista artística, científica e literária, Ano IV, número 5, Maio de 1907, Rio de Janeiro.