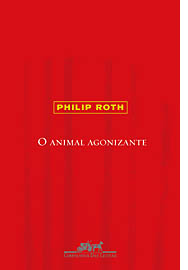–
–
 Os valsistas, s/d
Os valsistas, s/d
Jack Vettriano (Inglaterra, 1953)
–
–
Raramente escrevo sobre um livro sobre o qual me sinto tão ambivalente. Mas há alguns aspectos em Um caso de verão, de Elin Hilderbrand [Bertrand 2011] que superam as características de que não gosto: 1) parece ter sido escrito com a possibilidade de um filme no futuro, de fácil revisão para um roteiro cinematográfico; 2) há quase tantos diálogos quanto narrativa e frequentemente esses diálogos não trazem informações necessárias, estão ali para imprimir uma leveza, um ritmo de leitura considerado mais fácil; 3) tem todo o jeito de livro de mulherzinha. No entanto, suas qualidades superam as birras com que convivi durante a leitura, e por isso, me posiciono aqui para explicar.
É um livro que demonstra as diferenças entre o amor e a paixão: no que se baseiam esses sentimentos, como eles se expressam e o que eles nos fazem fazer. Paixão e amor são contrastados do início ao fim do romance através de Claire, nossa heroína, o único personagem realmente tridimensional na história. Não estamos falando simplesmente de uma paixão amorosa, mas paixão pela profissão, pela sua arte, paixão por aquilo que nos tira o sono e ao que nos dedicamos sem contar horas ou esforço; paixão que leva ao descontrole sobre nossas ações ou emoções. Como o título retrata, Claire, dona de casa, mãe de quatro filhos, artista de vidro, bem conceituada, com peças em importantes coleções e museus do país, bem casada e ainda enamorada de seu marido, tem um caso, desenvolve, inexplicavelmente, uma paixão por outro homem com quem mantém um relacionamento extraconjugal.
–

–
As razões para isso, ainda que não especificamente mencionadas, são pequenas e provavelmente teriam sido contornáveis se Claire não estivesse passando por um momento de grande fragilidade emocional por ser considerada, e se sentir, culpada pelo nascimento prematuro do último filho, consequência atribuída ao excesso de trabalho. Mas seu trabalho, sua vocação, era sua paixão e percebemos isso quando depois de meses sem entrar no ateliê para fazer esculturas de vidro ela se aproxima dele com reverência e volúpia, passando horas desenhando e pensando nas possíveis soluções para a encomenda que recebera. A justificada permissão para trabalhar vem como uma dádiva, das mãos de quem aprecia sua arte, de um colecionador de arte, e era uma obra beneficente. Ele, um benfeitor, um mecenas. Quem não sabe que amar o meu trabalho é me amar? Quem resistiria à uma pequena transgressão?
Ao fundo, nos relacionamentos do dia a dia, nas viradas de sorte corriqueiras do cotidiano temos um mundo de outros personagens que, como Claire, são transgressores de grande ou pequeno porte: perdem dinheiro no jogo, bebem, coletam uma pequena fortuna em roubos de colarinho branco; personagens que se revelam na inveja e na maledicência. Quem merece ser punido? E como? Por que motivo? O padre católico não é capaz de responder aos questionamentos de Claire… E assim, essa mulher, que tenta manter simultaneamente uma família e uma profissão, procura um ponto de equilíbrio entre o que faz e aquilo que acredita ser correto, vivendo, por um ano, no olho do furacão, no eixo centrífugo de um território transgressor.
–

Elin Hilderbrand
–
Frágil, meio-morta, meio-viva, Claire necessitava de algo mais do que a sua família para se sentir satisfeita, bem consigo mesma e sem culpa pelo nascimento prematuro de seu bebê, sem essa mesma culpa que a impulsionou à transgressão. Claire toma suas decisões no final do livro, mas fica evidente que ninguém tem a resposta certa e que essa vai depender de cada um. Por esse questionamento, por essas posições, sim, esse romance cresce e ganha em impacto.
Este livro foi a escolha do meu grupo de leitura para o mês de maio. Andávamos muito cansadas de sagas familiares, de ficção histórica, da Segunda Guerra Mundial, de antissemitismo, enfim de uma série de livros pesados, que nos pareciam todos variações sobre um mesmo tópico. Um caso de verão foi escolhido para virar uma esquina, para dar uma mexida num caminho que parecia repleto de desgostos sem fim e, de fato, ele nos trouxe uma dinâmica diferente e válida, principalmente por trazer à tona aspectos psicológicos importantes com os quais convivemos diariamente. É leitura boa, rápida e ideal para um bom fim de semana chuvoso.