–
–
 Leitora e flores, 2004
Leitora e flores, 2004
Márcio Melo (Brasil, contemporâneo)
acrílica sobre tela, 76 x 61 cm
www.marciomelo.com
–
Nos dias de hoje tenho mais prazer com a literatura lusitana do que com a produzida no Brasil. São raros os escritores brasileiros cuja ficção me dá prazer. Acontece com a literatura, o que acontece com o cinema, estamos em pontos opostos sobre a percepção do que é qualidade. A produção nacional não me seduz. Nos dois casos me parece que escritores e diretores falam para seus colegas, escrevem e filmam obras para que seus colegas leiam ou assistam e não para um público, como eu (e são muitos de nós nesse barco) sedento por uma boa história, contada de maneira criativa mas sem didatismo político para que aceitemos goela abaixo essa ou aquela nova moda. A história bem contada, bem narrada, que aquece a alma do leitor existe nas exceções brasileiras, e as resenhas nesse blog mostram os nomes de autores brasileiros que aprecio. Por aqui, no entanto, estamos fortemente dominados pela teoria de que a arte resolve problemas sociológicos. Não é o caso e nunca foi. Literatura ou cinema com agenda política é coisa adolescente e entediante. Com o passar dos anos se perde, é encafifada com teias de aranha, esquecida nas prateleiras inalcançáveis das bibliotecas até ser tema de alguma dissertação para um estudante de doutorado.
Deve ser por isso que a literatura produzida nas duas últimas décadas, em outras versões da minha língua materna, me atrai tanto. Não falo só de Portugal, mas dos países de língua portuguesa do continente africano. Com eles não me sinto lendo tratados sociológicos sobre personagens que trilham a periferia da sociedade. O encantamento que tenho com Miguel Sousa Tavares, Dulce Maria Cardoso, Ondjaki, Saramago, Agualusa, Felipa Melo, Gonçalo M. Tavares, Germano Almeida, Mia Couto entre outros raramente encontra eco dentro de mim pelo que é produzido deste lado do Atlântico.
Hoje isso acontece ainda uma vez mais. Hoje, estou cantando, enrolando a língua no prazer de pronunciar as palavras que conheço, mas que me vêm com conotações diferenciadas, com usos criativos. Estou degustando a prosa de José Luís Peixoto. O que me agrada? A linguagem entre o coloquial e o clássico; a maneira econômica e pausada de narrar; a inversão de imagens que surpreende a narrativa [como no texto abaixo quando diz: “Os barulhos faziam-lhe perguntas…”] Uma escrita quase poética, com elipses que deixam espaço para a nossa imaginação. O livro chama-se Livro.
“(1960)
O comboio era incompreendido pelo Galopim.
Encostado à janela, de boca aberta via os campos a passarem e sentia o barulho do comboio no encosto, no rabo sentado, nos pés dentro dos sapatos. As nuvens afastavam-se mais devagar do que as árvores, que passavam a zunir. Olha um rapaz lá além a guardar meia dúzia de ovelhas. Galopim apontava para a janela, mas os outros rapazes da sua idade pouco ligavam. Usava um fato cinzento que lhe tinha sido oferecido por uma viúva. É uma boa vantagem terem o mesmo tamanho, disse a viúva. Mas não tinham. O Galopim era encorpado, mas o falecido, velho grande, era mais encorpado ainda. As calças presas por um cinto, faziam foles na zona da cintura. As mangas do casaco chegavam-lhe quase às pontas dos dedos. A viúva também disse que era uma boa vantagem calçarem o mesmo número, mas também não calçavam. Os sapatos iam seguros por palmilhas de cartão, ásperas.
A cidade, os olhos de Galopim rebolavam-se pela cidade. Os barulhos faziam-lhe perguntas a que não sabia responder. As casas levantavam-se diante dele. Os pombos acalmavam-no em voos sobre praças e avenidas. Ao longo dos passeios, evitando e ultrapassando pessoas desconhecidas, o Galopim seguia os outros rapazes de sua idade. E entraram numa porta aberta, subiram por umas escadas estreitas, degraus de madeira gasta, que cheiravam a musgo seco e que escureciam.
O Galopim continuou a segurar a maleta quase vazia. Estava ligeiramente despenteado. Tentou escutar com muita atenção aquilo que foi dito pelo rapaz da sua idade, muito sério, e pela mulher do peito para cima, que estava sentada atrás de um balcão.
Somos oito.
Mas havia um gato, peludo, que passava pelas pernas dos outros rapazes da sua idade, pelas suas, e que, com um pulo, chegou a subir para cima do balcão. O Galopim deixou de escutar a conversa para seguir os movimentos do bicho. A mulher não se interessou quando estendeu a chave ao rapaz com quem tinha estado a falar. No fundo de um corredor, atrás de uma porta, estava o quarto: meia dúzia de beliches de ferro, um canto do teto desmoronado, nuvens negras de umidade nas paredes, uma mesa pequena e velha. Os rapazes da idade do Galopim estavam alegres. No dia seguinte, iam às sortes. Aos olhos deles, a cidade parecia azeite de fritar. Era quase de noite.”
Mais tarde o capítulo seguinte começa encantador:
“(1964)
As paredes estavam mais resignadas que os pombos.
Era uma hora prateada. O fim da tarde atravessava o tempo e entrava pela porta aberta do quintal. O fim da tarde atravessava o vento. Ouvia-se o restolhar das folhas das árvores, ao longe, mas ouvia-se também as asas dos pombos a riscarem o ar, gemidos cortados, mas ouvia-se também o lume a arder, as chamas a fazerem estalar o madeiro, mas ouvia-se também a água”.
Ou o início da segunda parte deste capítulo:
“O Mondego tinha excelentes margens para vomitar.”
Em: Livro, José Luís Peixoto, São Paulo, Cia das Letras: 2012, pp: 71-72; 75, 76.
A narrativa surpreende não só pelo conteúdo mas pela maneira como é mostrado. Ainda não acabei de ler o livro, mas já antecipo uma leitura que terá me satisfeito quando chegar ao final.




 Monsaraz, 2001
Monsaraz, 2001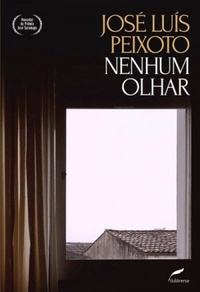
 José Luís Peixoto
José Luís Peixoto Senhora lendo jornal
Senhora lendo jornal









