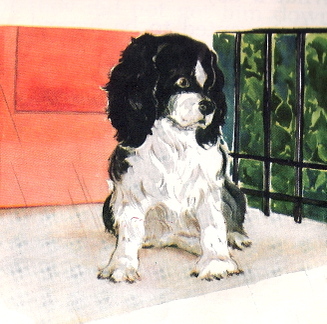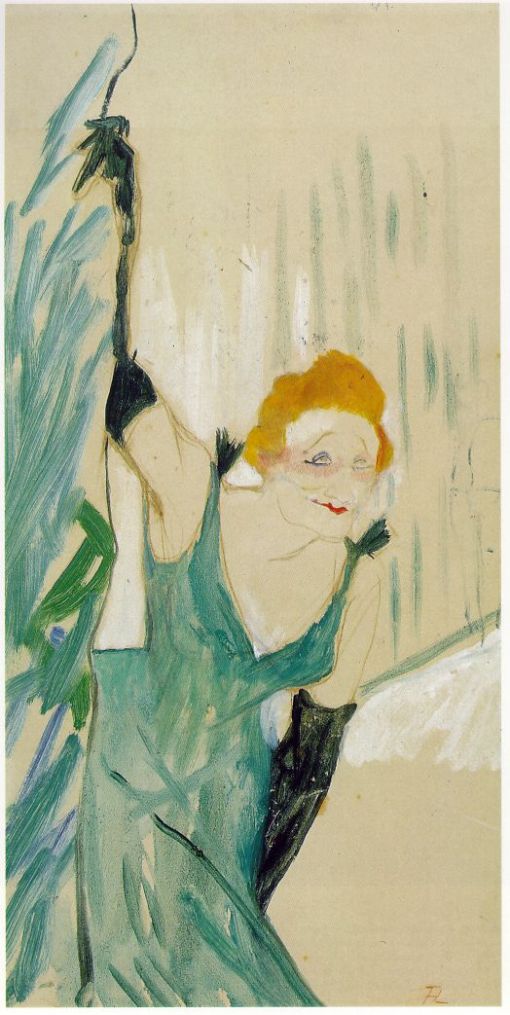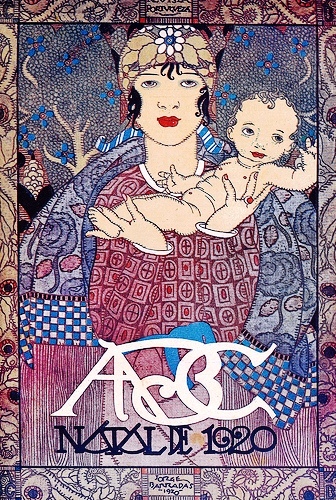Igreja de São Bento, Vale do Tamanduateí, SP, s/d
José Wasth Rodrigues (Brasil, 1891-1957)
Aquarela, 32 x 47 cm.
—–
—–
–
Vorte quem tem fé
—–
À memória de Horácio Senne
—–
” A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquelas que não se vêem.” —- S. PAULO, Epístola aos Hebreus, 11
—-
——-
Nada se pode articular contra a sinceridade com que a gente do Vale do Paraíba pratica seus deveres religiosos. Pelo menos, era assim no meu tempo de menino: os preceitos da Igreja, nós os cumpríamos com uma pontualidade inalterável, e mais ainda: com profunda unção espiritual.
Por alguns anos (antes de nos transferirmos para a Chacrinha, às margens do Paraíba), residimos perto da Matriz, e tivemos como vizinho o velho vigário Gaudêncio Antônio de Campos.
Tal circunstância, acrescida pelos desvelos de minha mãe, concorreu para a dedicação e o interesse com que eu e meus manos nos dedicávamos a tudo o que dissesse respeito ao culto.
Por ocasião das grandes e solenes procissões, nós figurávamos em lugares de realce, trajando roupas vermelhas, e tendo nas mãos pesados círios. Nas rezas do mês de Maria, igualmente, éramos incluídos na guarda de honra do altar. Como mais velho, eu, compenetradíssimo, fiscalizava meus irmãos, pois o maior prazer do Nelson era brincar com a chama de sua vela, e reacender as que se apagassem, para o que saía pingando cera em todo o mundo; e o do Júlio, bater nos cachorros que entrassem no templo, os quais saiam ganindo lamentosamente, o que a meu ver perturbava a atenção piedosa dos fiéis.
O vigário Gaudêncio, homem boníssimo, utilizava, sempre que possível, nosso concurso nas festinhas da paróquia. É claro que não designo por essa forma as grandes solenidades, religiosas e populares, que se efetuavam outrora, como ainda hoje, nos dias 23 a 25 de junho, e que compreendem as homenagens ao Santo Precursor, padroeiro da cidade e as festas anuais consagradas ao Divino Espírito Santo. Nesses dias havia alvorada, missas cantadas (pregando o Evangelho ilustres oradores sacros), imponentes procissões, retretas ao jardim público, mesas de doces franqueadas ao povo, como nas hecatésias atenienses, leilões, fogos de artifício o que tudo figurava nos programas impressos em enormes folhas de papel de cor, e absorvia as atenções de toda a gente, durante aquele movimentado tríduo.
Dessas solenidades, porém, a que mais me impressionava era a proclamação dos festeiros para o ano seguinte. Os festeiros eram três: o “Imperador”, o “Capitão do Mastro” e o “Alferes da Bandeira.” O primeiro, superintendia toda a festa; o segundo tinha a seu cargo a ereção do mastro, alto poste de madeira, cantado em frente a Matriz, poste que devia ser anualmente substituído. Na extremidade do tal mastro ficaria o quadro, isto é, a bandeira, em que São João Batista se via com o inseparável cordeirinho aos pés. Ao “Alferes da Bandeira” cabia a feitura desse quadro.
Salvo casos especialíssimos (de promessas, ou de donativos altamente valiosos), os festeiros eram escolhidos mediante sorteio, entre paroquianos de notória idoneidade, que se apresentassem candidatos àquelas honrosas funções.
Quando se proclamava o “Imperador”, estando a velha igreja repleta, sentia-se certo frisson na assistência: a música tocava, os sinos vibravam, e o foguetório enchia o ar com seus estrondos. É claro que tais homenagens lisonjeavam a vaidade dos pretendentes.
Lembra-me ainda o dia em que o vigário Gaudêncio se mostrava preocupado com qualquer problema de solução difícil.
— Estou numa dúvida desagradável, seu João de Deus – dizia ele a meu pai. – Imagine que eu já havia assumido compromisso com o Rebouças de Carvalho, o Dr. França e o Chico Carlos, para imperador, capitão do mastro e alferes da bandeira. Agora soube que o Zé Carlos e o Monteiro também fazem questão fechada de ser festeiros. Não quero faltar a minha palavra, mas também não desejo magoar a esses bons amigos… Que acha você que convém fazer?
Meu pai formulou uma solução conciliatória, mas o padre fez ver que nada conseguiria, dada a intransigência dos candidatos.
O Nelson, que comigo assistia ao grave debate, animou-se a propor outra sugestão.
— Pois vamos ver o que é, menino, disse o sacerdote, já sorrindo por conta da extravagância que esperava.
— Em vez de três festeiros, o senhor arranja cinco.
— Cinco? Mas, como? Se são só três os cargos!
— Isso não tem importância! O senhor arranja mais dois: o major da fogueira, e o tenente do pau de sebo!
É claro que a idéia do Nelson nem sequer foi objeto de deliberação o que o decepcionou bastante. Atribuímos a recusa do padre ao fato de não ser possível promover o Capitão José Carlos a “major”, nem rebaixar o Capitão Moreira a “tenente”.
Convém recordar que naquele tempo todos os fazendeiros do interior adquiriam patentes de oficiais da extinta “Guarda Nacional”, e, como esses títulos nunca mudavam, aderiam ou anexavam-se indelevelmente aos nomes dos respectivos portadores.
— O padre Gaudêncio é muito atrasado, observou Nelson, despeitado. E é teimoso na sua opinião. Nunca muda nada! Todos os anos há de se fazer a mesma coisa que se fazia há cinqüenta anos atrás!
Em casa a turma fez caçoada. Sugeriram-se mais dois postos, altamente honrosos: o de coronel da retreta e o de general da procissão.
————— —————-
Mais do que as festas juninas, porém, o fato que ora vou referir comprova o espírito religioso do povo queluzense. Quando ele ocorreu, já o padre Gaudêncio, valetudinário, havia deixado o árduo ministério. Pastoreava a paróquia o padre Paulo Machado.
Prolongada estiagem estava causando graves danos à lavoura, em todo o município. Tres longos meses haviam transcorridos, sem que do alto caísse um pingo d’água. Os lavradores queixavam-se e com razão. Rios e ribeirões das fazendas distantes do Paraíba minguavam a olhos vistos. O gado perecia.
Quando ocorrem tais períodos de secas, o céu torna-se pardacento, todo por igual, e os dias passam sem que nos venha o refrigério de uma brisa, o que produz em toda gente, nos animais, e até nas plantas uma tristeza esquisita, um desalento sem remédio.
O povo de Queluz suportava a ausência de chuvas enquanto podia. Se a natureza perseverasse em sua ação inclemente, não havia discutir: recorria-se a São Roque.

Procissão, 2007
Vera Sabino (Brasil, PR. Contemporânea)
Acrílica sobre eucatex
—–
——–
São Roque tem o seu culto em modesta capelinha em torno da qual se formou um pequeno povoado, simples arraial, que do município de Areias foi recentemente transferido para o de Queluz. Cerca de três quilômetros separam o povoado de qualquer das duas cidades. Numa e noutra tem o santo apreciável número de devotos.
Para trazer São Roque a Queluz tornava-se necessário a autorização do vigário. Obtida a licença, organizavam-se os crentes em procissão e lá iam, galgando a estrada que contorna a Fortaleza, e repetindo orações que se iniciavam e se encerravam pela prece “Ad petendam pluviam”.
De volta, ao reentrar a procissão na cidade, o povo vinha receber a imagem do milagroso santo, e, com demonstrações do maior respeito acompanhava-a até o alto da Matriz.
Repicavam os sinos e soltavam-se foguetes, condimento indispensável em tais cerimônias.
— Ora, não é tanto assim, objetou o sacerdote, cautelosamente. E prosseguiu: Talvez convenha aguardar uns dias mais… Penso que só em caso extremo devemos apelar para São Roque, e removê-lo de sua capela para a Matriz…
— Mas… V. Revma. não se opõe?
— A que a imagem venha, não!… Apenas acho que ainda é cedo… Consultem os zeladores; depois… veremos o que se há de fazer.
Os solicitantes retiraram-se descontentes com o resultado da tentativa.
À tardinha, ao despertar de sua sesta habitual, o vigário teve uma surpresa que o deixou contrariadíssimo.
Soube que à sua revelia, os mesmos devotos e outros vários tinham estado na igreja, e dali retiraram tudo o que era necessário ao cortejo. Descendo, processionalmente, a ladeira, e atravessando a ponte do Paraíba, o grupo se engrossou com grande número de aderentes. Quando o sacerdote teve plena ciência do caso, já a procissão subia a Fortaleza, fora da zona urbana, entoando o cântico “Ad petendam pluviam”.
Mas o Padre Paulo não se deixava convencer facilmente. Considerou que aquilo significava um desrespeito a sua autoridade.
A vinda de São Roque importava na realização de uma festinha, dias depois do aguaceiro, na data fixada para o regresso do santo. Ora, ele vigário, julgara prematura a vinda da imagem, pensando já nas conseqüências. Resolveu agir com presteza no sentido de procrastinar a execução daquele ato.
Saiu imediatamente, arranjou, às pressas, um veículo do tipo que outrora se chamava “aranha”, e foi no encalço da procissão.
Em poucos minutos alcançou-a.
Os romeiros interromperam a marcha, ao vê-lo.
— Então, que é isso, meus amigos? Vocês vão, assim, buscar São Roque?
— Vamos, seu Vigário – explicou o líder do movimento – como Vossa Reverendíssima disse que não se opunha, e todos os zeladores concordaram, nós não quisemos incomodar Vossa Reverendíssima, que estava descansando, e…
— Mas aqui ninguém acredita em São Roque! — exclamou o vigário, em tom paternal de censura.
— Perdão, seu Vigário, mas nós todos confiamos no santo…
— Ninguém acredita, insistiu energético, o sacerdote. E a prova é esta: ninguém trouxe guarda-chuva! Se vocês, realmente, têm fé em São Roque, voltem, para buscar os guarda-chuvas!
Ouvindo essa recomendação, um dos crentes tomou a iniciativa de transmitir a todos os demais o aviso, exclamando em voz bem alta, no linguajar de roceiro:
— Vorte quem tem fé! Vorte tudo, pra morde buscá os guarda-chuva!
Não houve remédio, senão atender. Todo o bando voltou, com raras exceções. Tornou atrás, igualmente, o vigário, convencido de que pelo menos naquela tarde não seria possível a marcha que ele interceptara.
Mas enganou-se. Os devotos de São Roque, em matéria de pertinácia, nada deixavam a desejar, relativamente ao padre que os guiara. A procissão atrasou-se em três quartos de hora; mas reconstituiu-se, e prosseguiu.
A julgar pela quantidade de paraguas, a fé em São Roque era, mesmo, profunda.
Ao cair da noite, regressavam os devotos a Queluz. A imagem vinha com eles, é claro.
A essa hora, nuvens sombrias já se iam acumulando para os lados da Figueira.
E quando a procissão entrou na cidade, chovia a cântaros. Os guarda-chuvas prestaram excelente serviço a seus possuidores.
———- ———-
No dia seguinte, o Padre Paulo encontrou, na boca da ponte, dois paroquianos que haviam participado da procissão, e foi ter com eles.
— E não é que a chuva veiu ônte mêmo, seu Vigário.
— Ora, como não havia de vir! Que São Roque é milagroso, todos nós sabemos. Agora – o que eu notei é que todos mostraram ter Fe no santo, menos vocês dois!
— Pruquê, seu Vigário?
— Porque só vocês não voltaram para buscar o guarda-chuva!
— Ah! seu padre! Nós tem muita fé em São Roque, mas nós não tem guarda-chuva!
***
——
Em: Histórias do rio Paraíba: episódios e tradições regionais, de J.B. de Mello e Souza, São Paulo, Saraiva:1951, 2 volumes, pp 80-88, volume I
—
—–
João Batista de Mello e Souza (SP 1888 — RJ 1969) — Pseudônimo: J. Meluza — Contista, romancista, poeta, memoralista, autor didático e de Literatura Infantil, teatrólogo, historiador, tradutor, folclorista, diplomado em Direito (1910), funcionário público, professor universitário, jornalista, membro da Academia Carioca de Letras. Prêmio Joaquim Nabuco -ABL (1949).
Obras:
Sacuntala de Calidasa e outras histórias de heroísmo e amor, contos indianos,
Lendas Medievais, contos
A sombra do bambual, teatro, 1955
Histórias do Rio Paraíba, 2 vol, contos e memórias, 1951
Histórias famosas do Velho Mundo, contos,
Majupira, romance histórico, 1949
Sete lendas de amor e outras poesias, 1959
Estudantes do meu tempo, contos e memórias, 1958
História da América, história, 1957
História do Brasil, história, 1959
História Geral, história, 1956
O homem sem pátria, 1963