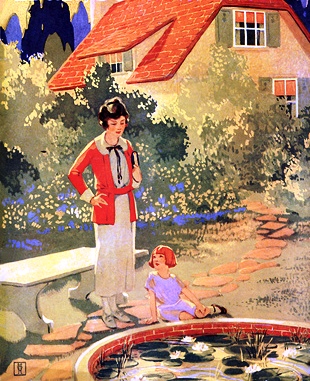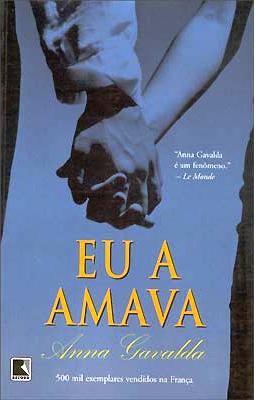Conde Ludovico Lepic e senhoras vendo uma exposição, s/d
Julius LeBlanc Stewart ( EUA, 1855-1919)
Óleo sobre tela, 39 x 28 cm
Coleção Particular
—
—
Há uma passagem no romance de Guy de Maupassant, Bel-Ami, que se tornou extremamente sedutora para mim. Ela conta da visita que o personagem principal, Duroy, faz a um conhecido, e do prazer e orgulho que o dono da casa tem em mostrar a Duroy sua coleção de quadros. Li e reli o trecho, várias vezes. Os pintores são todos conhecidos, ativos em Paris no final do século XIX. Só os quadros mencionados, esses sim, parecem ser produtos da imaginação de Guy de Maupassant. No entanto, o escritor mostra grande familiaridade com o mundo artístico da época: todos os títulos e descrições das cenas representadas na coleção do Senhor Walter, que visitamos juntamente com Duroy, se encaixam perfeitamente com os temas e os títulos e, digamos assim, preocupações estéticas de cada pintor mencionado. A minha curiosidade venceu e contra qualquer aspiração que eu poderia ter de mostrar bom senso resolvi a todo custo achar representações de quadros equivalentes aos da suposta coleção de arte do Sr. Walter. Como não poderia deixar de ser, não há caçada que se preze sem mostra das presas, assim, coloco aqui não só a passagem do livro mas sobretudo as telas que encontrei que seriam equivalentes — na maneira do possível — as que formariam o acervo do colecionador retratado por Maupassant.
***
—
—
Duroy havia levantado os olhos para as paredes, à falta de outra ocupação, e o Senhor Walter lhe gritou de longe, num visível desejo de fazer valer seus objetos: — Está olhando meus quadros? — O meus destacou-se. — Vou mostrá-los. — E apanhou um candelabro para que ficassem visíveis todos os detalhes.
— Aqui, as paisagens — disse ele.
No centro da parede, via-se uma grande tela de Guillemet, uma praia na Normandia, sob um céu de borrasca. Por baixo, um bosque, de Harpignies, depois uma planície da Argélia por Guillemet, com um camelo no horizonte, um grande camelo de pernas longas, semelhante a um estranho monumento.
—
—
Paisagem costeira com figuras, s/d
Jean Baptiste Antoine Guillemet (França, 1843-1918)
óleo sobre tela
—
***
—
Paisagem, s/d
Henri-Joseph Harpignies ( França, 1819-1916)
Óleo sobre tela
—
—
Walter passou à parede seguinte e anunciou com um tom sério, de mestre-de-cerimônias: — A grande pintura. — Eram quatro telas: Uma visita ao hospital, de Gervex. A ceifeira, por Bastien-Lepage; Uma viúva, por Bouguereau, e Execução, por Jean-Paul Laurens. Esta última obra representava um padre sendo fuzilado na parede de sua igreja, por um destacamento de azuis.
—
—
A colheita, 1880
Bastien Lepage (França, 1848-1884)
Óleo sobre tela
—
***
—
O dia dos mortos, 1859
William Adolphe Bouguereau ( França, 1825-1905)
Óleo sobre tela
—
***
—
A execução do Duque d’Enghien, s/d
Jean-Paul Laurens (França, 1838-1921)
—
—
Um sorriso passou pela figura grave de Walter ao indicar a parede seguinte: — Aqui os fantasistas, — Via-se em primeiro lugar uma pequena tela de Jean Béraud, intitulada O alto e o baixo. Era uma parisiense bonita subindo a escada dum bonde em marcha. Sua cabeça parecia no nível do tejadilho, e os senhores sentados nos bancos descobriam, com satisfação ávida, o rosto jovem que vinha ao encontro deles, enquanto os homens, de pé na plataforma de baixo, olhavam as pernas da moça, com expressões diferentes de despeito e desejo.
—
—
Jovem mulher atravessando a rua, s/d
Jean Béraud (França, 1849-1936)
óleo sobre tela
—
***
—
Walter segurava a lâmpada no alto e repetia rindo, com um trejeito maroto: — Hein? não é engraçado? não é engraçãdo?
Depois iluminou um Salvamento de Lambert.
No meio de uma mesa vazia, um gatinho sentado sobre o traseiro, examinava com espanto e perplexidade uma mosca afogando-se num copo d’água. Tinha uma pata levantada, pronta a apanhar o inseto com um golpe rápido. Mas não estava completamente decidido. Hesitava. Que Faria?
—
Depois do jantar, s/d
Louis Eugène Lambert ( França, 1825-1900)
óleo sobre tela
—
—
O patrão mostrou depois um Detaille: A lição, que representava um soldado na caserna, ensinando a um cãozinho a tocar tambor, e declarou: — Aqui há espírito!
Duroy ria com um riso aprovador e extasiava-se: — Como é encantador, como é encantador, encan… — Parou bruscamente, ao ouvir, por trás dele, a voz da Senhora de Marelle, que acabava de entrar.
—
—
1806: Ponto avançado da cavalaria, sem data
Jean-Baptiste Edouard Detaille ( França 1848-1912)
óleo sobre tela.
—
—
O diretor continuava a iluminar as telas e explicá-las.
Mostrava agora uma aquarela de Maurice Leloir: O obstáculo. Era uma cadeirinha parada, por se achar a rua obstruída por uma luta entre dois homens do povo, dois valentões, brigando como Hércules. E pela janela da cadeirinha, via-se um lindo rosto de mulher que olhava… que olhava… sem impaciência, sem medo, e com certa admiração, o combate dos dois brutos.
—
—
A última visita de Voltaire a Paris, s/d
Maurice Leloir ( França, 1853-1940)
—
—
Walter continuava dizendo sempre: — tenho outros nas outras peças seguintes, mas são de gente menos conhecida, menos classificada. Aqui é o meu salão. Compro dos jovens do momento, dos mais jovens, e ponho-os de reserva nos quartos mais internos, esperando os autores tornarem-se célebres. — Depois disse, muito baixo: — É a hora de comprar quadros. Os pintores morrem de fome. Não têm dinheiro, não têm dinheiro…
—
—
Em: Bel-Ami, Guy de Maupassant, São Paulo, Editora Abril:1981, tradução de Clóvis Ramalhete, pp: 111-113