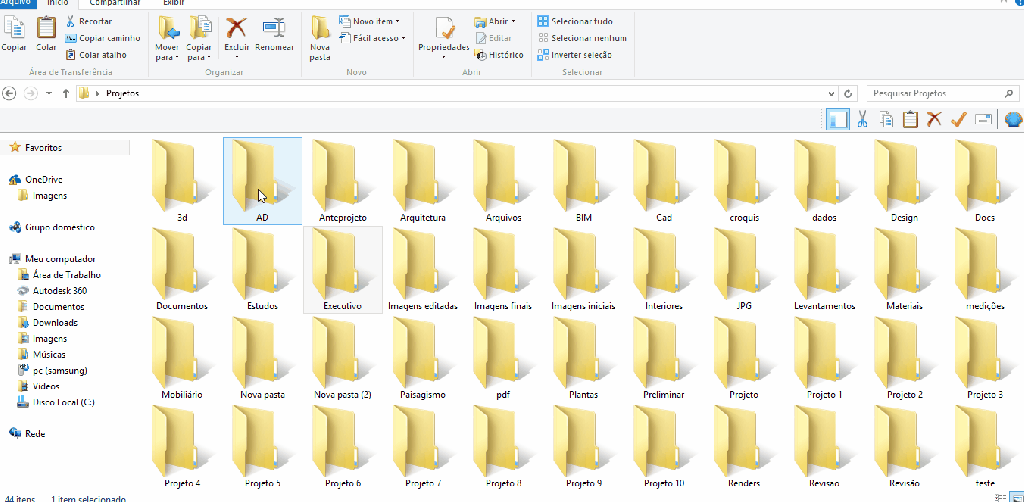.
Viúva há dezesseis meses, ouço que o luto é um processo único, específico para cada caso. Pode ser. Descrições em livros e na web são insatisfatórias. Para mim, este período tem sido irreal, com traços de realismo fantástico. Continuei com obrigações como pude. Depois de intervalo, retornei às aulas até dezembro de 22. Mas o período está envolto em brumas, memórias nebulosas. Lidar com a burocracia é um passeio pelo mundo de Kafka, interminável. Vivi distante de mim mesma. Éramos duas: a que agia e a que vegetava e ia junto. Fantasma de mim mesma, mas consciente. Um ano atípico em todos os aspectos. Tive Covid duas vezes, quando ninguém mais estava de recesso em casa; meu bônus foram sequelas que contorno até hoje. Eu poderia ter previsto essa consequência: meu corpo sofre com choques emocionais. A hepatite me pegou logo após meu primeiro marido sair de casa, apaixonado por outra mulher. Viver esse lugar comum, tão banal, deprimiu e afetou a autoestima. Sobrevivi, em parte, graças ao repouso obrigatório da doença e aos amigos.
Ao longo destes meses, percebi que havia necessidade de mostrar a mim mesma que agora é um novo mundo, outra realidade. Mandei pintar o apartamento: nova cor, brilhante. Uma longa extensão decorei com papel de parede. Em menos de um ano, os pintores voltaram: para nova cor; e o papel de parede foi removido. Aquela pessoa que escolhera essas coisas, essas cores, não era eu. Começou então o processo de achar quem sou. Quem sou sem meu marido? O que importa para essa mulher: o que quer, como quer, nesta realidade? Minha procura me leva, nos dias de hoje ao passado, próximo e longínquo.
Comecei a questionar o corriqueiro: a televisão. No ano que passou, não parei em nenhum dos canais de esporte. O interesse sobre os jogos de basquete foi adquirido por estar casada? E o futebol americano, que depois de aprender as regras se tornou um queridinho das minhas semanas do outono? Por que não vi nenhum jogo? Continuo com isso? Continuo com HBO? Netflix anda esquecida, vejo menos ainda a Amazon Prime. O que quero? O que me pertence? Passei setenta e cinco por cento de minha vida, casada. Dois maridos. E o período entre eles foi pequeno. Viver com alguém envolve adaptar-se ao outro. Às vezes as pessoas julgam que é um submeter-se. Mas não penso assim: até Leonard Hofstadter se adaptou a Sheldon Cooper. Você se adapta, porque quer viver com o outro, entendê-lo, agradar. Porque aprecia seus valores. Porque ama.
Nessa busca, desencaixotei fotos, agendas, diários, cadernos de notas e ainda não cheguei ao fim. Fotos minhas de criança, jovem, adulta, só, com um ou outro marido. Viagens que fiz. Onde estávamos? O que eu pensava na época? Eu era feliz, neste ponto, naquela cidade em que vivi, por meses, anos, cinco anos? Oran, São Paulo, Coimbra, Baltimore? Belgrado? Washington D.C., Agen? Aqui, no Rio de Janeiro, onde nasci, o que me fazia e me faz feliz? Que me segura aqui? E por que? Ainda não tenho respostas. Não sei se terei. Estou passando em revista a vida que construí. Encontro uma mulher interessante, com um passado rico, determinada e sensível; mais sensível do que parece e repleta de incertezas sobre o que fazer do futuro.
Minhas buscas têm me levado ao teatro, a shows, a concertos. Não é fácil. Não é fácil fazer essas coisas sozinha. Sem a intimidade do olhar amigo, do sorriso de uma piada no palco, sem aperto de mão discreto, acentuando um acorde inesperado. Mas tenho ido.
E me surpreendi semana passada; a imaginação é fértil e ajuda nas nossas buscas. Além disso a experiência de vida dá maior precisão às nossas escolhas. Fui à Sala Cecília Meireles, Nico Rezende Canta Chet Baker era o nome do espetáculo. Foi excelente. Gosto de jazz. Meu lugar, fila M, com bom declive teve cadeiras vazias dos dois lados. Com a música começada, vieram as ponderações. E a imaginação rolou à solta.
Lembrei-me que meus dois maridos gostavam de jazz. Lembrei-me de duas ocasiões específicas: uma vez, em Baltimore, fomos a Left Bank Jazz Society no Famous Ballroom, na North Charles St. onde vimos Stan Getz tocar seu saxofone como ninguém. Stan Getz que abrira o caminho da bossa-nova nos EUA, cuja apresentação trouxe o espetáculo à loucura quando tocou Hey Jude, dos Beatles. E me lembrei também, de um show em Raleigh, na Carolina do Norte, não me lembro do nome do grupo, quando o trompetista, interagindo com a plateia, veio à nossa mesa, e depois de breve conversa conosco, sabendo que meu marido tocara saxofone, queria porque queria que ele, à moda de Bill Clinton, se inserisse na banda.
O espetáculo na Sala Cecília Meireles, por causa de minhas memórias, trouxe para mim um de cada lado, os maridos, sentados à direita e à esquerda. O primeiro, companheiro de vida dos dezesseis aos vinte e nove anos, estava comigo em quase todas as minhas descobertas até o divórcio. Mais velho que eu dois anos, descobrimos a fase adulta juntos. O segundo já veio feito, mais velho que eu nove anos, americano, crescido na própria cultura que criara o jazz; familiarizado com essa música desde da infância. Este era mais dos blues. Cada qual com seu jeito e preferência musical. Nossa convivência, formou meu gosto, que agora, acredito ser diferente do deles; gosto dos quartetos ou quintetos de jazz, de Duke Ellington a Madeleine Peyroux e a Samara Joy, que uma pessoa amiga me recomendou recentemente. Não que eles não pudessem gostar dessas combinações musicais, não sei, mas talvez não fosse a preferência dominante para nenhum deles.
Fui das lágrimas aos risos naqueles noventa minutos. Agradeci estar sozinha. Os lenços de papel não foram suficientes para, molhados, também esconder as discretas risadas. Chorei pela ausência de referências, pelo árido caminho das memórias não-compartilhadas, pelo lapso de cumplicidade. Ri das aventuras passadas, da inocência de situações inesperadas, gravadas hoje em mim e só para mim. Este repassar da vida é para os fortes. Esse meu momento, que pode ser cruel, trouxe à mente a conhecida advertência de Alexander Pope em seu ensaio Criticism: “For fools rush in where angels fear to tread” [Os tolos se apressam no caminho que os anjos temem pisar]. É um caminho difícil. Há ratoeiras à beira da estrada que podem nos pegar pelo pé e nos levar para onde não há saída. É caminhada triste, solitária mas às vezes incrivelmente satisfatória. É um momento de perdoar erros passados, meus, deles, de todos nós.
©Ladyce West, Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2023